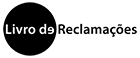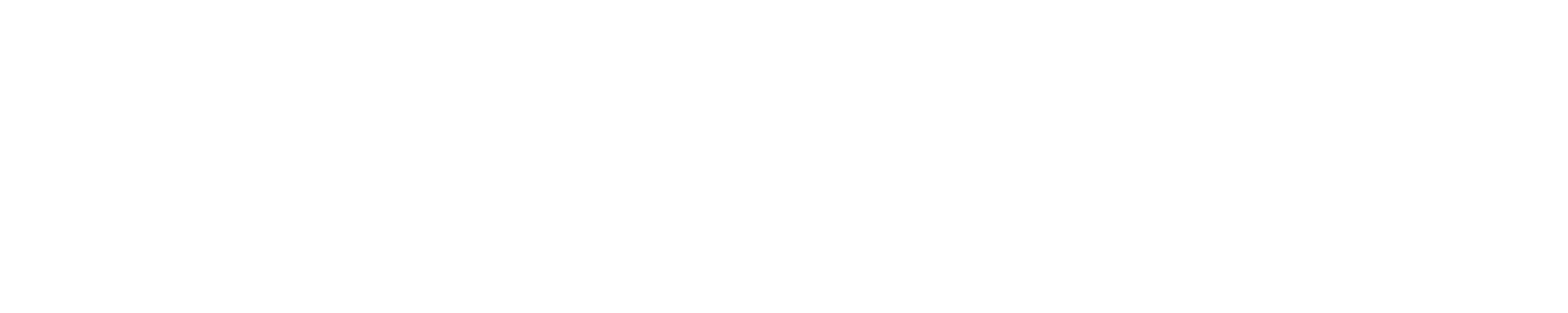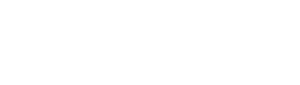Visite o CCVFloresta com toda a segurança!
Faça já a sua reserva! Saiba mais...
Os Incêndios e a Desertificação de Portugal Florestal
- Detalhes
- sexta, 25-05-2018

Local
Bar da Floresta
Centro Ciência Viva da Floresta
Convidado
Jorge Paiva
(Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra)
Horário
25 de maio, às 20h00
Inscrição
Gratuita mas obrigatória
No dia 25 de maio, sexta, o professor Jorge Paiva regressa ao Centro Ciência Viva da Floresta para dinamizar mais um Café de Ciência. Depois da tragédia que se abateu sobre a nossa floresta no último verão, o tema não podia ser mais atual: Os Incêndios e a Desertificação de Portugal Florestal.
Transcreve-se abaixo um texto escrito por Jorge Paiva que servirá de base à sua apresentação.
Os Incêndios e a Desertificação de Portugal Florestal
Jorge Paiva (Biólogo)
Centre for Functional Ecology - Science for People & the Planet
O povo que habitava primitivamente a Lusitânia vivia da floresta que lhes fornecia caça, peixe, frutas, farinha de bolota para o pão (não conhecia o trigo), castanha (substituída pela batata após os Descobrimentos) e verduras (veiças). Sem trigo, comiam pão de castanha ou pão dos bosques, a “bola sovada” (falacha) e pratos à base de castanha, como o paparote ou caldulo que ainda se comem em algumas regiões beirãs e tinham alguma “actividade social” baseada na castanha, como, os magustos, estando as brechas (apanha prévia, pela garotada) e os rebuscos (apanha das sobras pelos aldeões de fracos recursos) praticamente em desuso.
Quando se inicia o cultivo de cereais (trigo e cevada) e a domesticação de animais (cabra, ovelha e porco) há cerca de 8-7 mil anos, inicia-se a degradação da floresta. Essa degradação continuou depois com a pastorícia e agricultura até aos nossos dias, de que as brandas, inverneiras, vezeiras, socalcos e prados-de-lima são ainda o testemunho desse património cultural. Por outro lado, os Descobrimentos e respectiva Expansão tiveram grande impacte na devastação das formações florestais do nosso país. Inicialmente, para a construção naval, foi utilizada madeira de azinheira e de sobreiro, pela abundância destas árvores nas proximidades dos estaleiros da capital. Porém, devido à utilidade destas duas espécies de carvalhos, fornecedores, respectivamente, de bolota comestível e cortiça, foi proibido o abate destas duas preciosas espécies de árvores, tendo sido substituídas pelo carvalho-alvarinho [para cada nau eram necessários entre dois mil a quatro mil carvalhos]. Outras madeiras utilizadas, mas em menor quantidade, portanto, com fraco impacte ambiental, foram o pinheiro-manso e o pinheiro-bravo para a mastreação e vigamento e o castanho para o mobiliário. Só para a “Campanha de Ceuta” foram necessárias 200-300 naus e durante a Expansão dos Descobrimentos, para a Índia construíram-se 700-800 naus e para o Brasil cerca de 500. Portanto, durante essa época derrubaram-se mais de 5 milhões de carvalhos. Foi assim que se desflorestou grande parte do país, tendo desaparecido muitos dos nossos riquíssimos carvalhais.
Mais tarde, para a construção da rede de caminho-de-ferro, foram derrotadas as florestas onde predominava o carvalho-negral, cuja madeira servia para fabrico das travessas das vias férreas. Além disso, as máquinas a vapor necessitavam de lenha. Assim, as montanhas, particularmente as da região entre o Douro e o Tejo, foram praticamente desarborizadas e, portanto, erodidas, tendo sido o respectivo solo arrastado, assoreando os rios. O Mondego, por exemplo, assoreou de tal modo e tão rapidamente, que as freiras do Convento de Santa-Clara-a-Velha, que ali se instalaram no início do século XIV, três séculos depois (1677), isto é, após o auge da Expansão, tiveram que o abandonar, devido ao assoreamento do rio Mondego. Actualmente, em frente a Coimbra, o rio tem 30-40 metros de altura de areia.
Com as montanhas desarborizadas, a população passou a viver do pastoreio. A pastorícia intensiva também teve grande impacto na destruição da flora portuguesa, utilizando gados nacionais, mas também espanhóis na época medieval. A transumância dos rebanhos das planícies para a montanha no verão e vice-versa no inverno, só decaiu grandemente durante o século XX. Os rebanhos vindos de regiões que rodeavam as nossas serras, juntavam-se aos serranos, agrupando-se os animais em rebanhos de 1-3 mil ou mais cabeças de gado, à guarda de pastores serranos. A quantidade de animais que pastava nas serras era muito elevada, degradando os ecossistemas florísticos da montanha, com a consequente erosão dos solos. Os fogos e a prática das queimadas nas regiões agrícolas e também nas regiões de pastoreio, foram outro factor que contribuiu e continua a contribuir para a desertificação das nossas montanhas.
A destruição foi tal que os ecossistemas florestais portugueses, de que ainda possuímos algumas relíquias muito degradadas, foram sendo substituídos por urzais, giestais e tojais ou formações naturais mistas de urzes, giestas, tojo e carqueja, vulgarmente conhecidos pela designação genérica de matos. A partir de certa altura, essas áreas de mato foram rearborizadas com o pinheiro-bravo.
Com a conhecida Lei das Árvores de 1565, que constitui uma política de promoção de rearborização nos baldios ou propriedades privadas de todos os municípios, dá-se o incremento do pinhal. Esta lei realça a prioridade das resinosas, o que constitui um marco importante na história florestal do nosso país, tendo-se dado, portanto, o início da difusão dos pinheiros pelas montanhas portuguesas e, praticamente, por todo o território. Sendo uma resinosa de crescimento mais rápido que o carvalho, foi semeada com maior profusão do que o pinheiro-manso e do que as folhosas, tendo ampliado extraordinariamente a respectiva área, particularmente depois da criação dos “Serviços Florestais” e da política de arborização do “Estado Novo”, tendo-se criado em Portugal a maior área de pinhal contínuo da Europa. As nossas montanhas transformaram-se então num imenso pinhal.
O povo que vivera da floresta primitiva (caça, bolota, castanha, etc.), após a destruição desta, passou a viver dos matos (pastorícia), modificando novamente os seus hábitos passando, seguidamente, a viver do pinhal, que lhe dava madeira, lenha, resina, e muitos objectos manufacturados artesanalmente, como colheres, garfos e até facas.
Para sul do Tejo, apesar de se terem devastado muitos sobreirais e quase todos os montados de azinho, particularmente após a célebre campanha do trigo, o pinhal, quer de pinheiro-bravo quer de pinheiro-manso, nunca teve grande implantação.
A partir de meados do século passado (XX) os pinhais têm vindo a ser substituído por eucaliptais. Os eucaliptos interessam mais às celuloses por serem árvores de crescimento mais rápido do que os pinheiros. Nas últimas décadas incrementaram-se tão desenfreadamente as plantações de eucaliptos que se criou em Portugal a maior área de eucaliptal contínuo da Europa.
Com as montanhas ocupadas por eucaliptais, deu-se o êxodo rural pois, como os eucaliptos são cortados periodicamente de dez em dez anos, o povo não fica dez anos a olhar para as árvores em crescimento, sem ter mais nada que fazer. Isto porque os eucaliptais não dão para mais nada a não ser madeira para as celuloses, pois além de não terem praticamente mato útil, não podem ser cortados para lenha nem fornecem boa madeira para construção ou mobiliário. Assim, o povo além do abandono rural a que foi “forçado”, ficou ainda numa dependência económica monopolista, um risco para o qual não é, nem nunca foi, alertado.
Como é do conhecimento geral, a partir de 1975 aumentaram espectacularmente os fogos florestais em Portugal, constituindo um verdadeiro escândalo nacional a destruição não só da nossa vasta área de pinhal, como de algumas relíquias florestais e até de zonas agrícolas. Na nossa opinião, a delapidação técnica e humana dos Serviços Florestais, operada pelos sucessivos governos após a “Revolução dos cravos” (25. IV. 1974) e a desumanização do meio rural, são as principais causas desta situação.
Como consequência da devastação do pinhal, como também foi referido, tem-se vindo a assistir a um aumento sistemático da área ocupada por eucaliptos e acácias ou mimosas, estas últimas por serem invasoras bem adaptadas a zonas incendiadas e os eucaliptos por serem plantados indiscriminadamente devido ao seu presente valor económico.
Com ou sem eucaliptos e acácias, a continuar a onda de incêndios dos últimos anos, as nossas montanhas caminham vertiginosamente para a desertificação com o consequente aumento do assoreamento dos rios. Aliás, muitas das nossas montanhas são, actualmente, autênticas zonas desérticas, pois até as já referidas formações secundárias de tojo, giestas, urzes e carquejas, que ainda “seguravam” o resto de solo empobrecido, têm sido devastadas pelos incêndios.
Outra consequência do desmembramento dos Serviços Florestais é a diminuição da área arborizada de ano para ano, por não terem pessoal e verbas para rearborizar ou apoiar o plantio por particulares das áreas ardidas. Desde 1974, são destruídos por incêndios e exploração industrial, em média anual, cerca de 50-65 mil hectares (valor muito ultrapassado em 2003, em que arderam mais de 400 mil hectares) e são arborizados apenas cerca de 15-20 mil hectares. Há, pois, em média, um défice anual de 30-50 mil hectares. Assim, todos os anos assistimos a uma diminuição contínua da área arborizada do país. Enquanto não se re-estruturarem convenientemente os Serviços Florestais e não se investir na prevenção e não apenas no combate, continuaremos a caminhar para a desertificação.
Além disso, devido ao actual “Aquecimento Global”, Portugal está a ter verões mais quentes, mais secos e de maior amplitude. Ora, as únicas árvores que temos, capazes de suportarem estas novas condições, são, precisamente, os sobreiros e as azinheiras. É, pois, necessário repensar a floresta de produção e ordenar o país. Mas isto levará muitos anos, pois sobreiros e azinheiras são árvores de crescimento lento e o ordenamento do território é muito trabalhoso e demorado. Porém, isso já foi feito no Ribatejo e Alentejo. Os montados de sobro e de azinho demoraram dezenas de anos a formarem-se, mas hoje são rendíveis e sempre com o mesmo número de árvores pois, conforme vão morrendo, vão sendo substituídas por outras.
Se os nossos governantes continuarem, teimosamente, a não querer ver o que está a acontecer, caminharemos rapidamente para um amplo deserto de pedras montanhoso, com a planície e o litoral transformado num imenso acacial, como, aliás já acontece em muitas regiões de Portugal.

Jorge Américo Rodrigues de Paiva, nascido em Cambondo (Angola), a 17 de Setembro de 1933, licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Coimbra e doutorado em Biologia pelo Departamento de Recursos Naturais e Medio Ambiente da Universidade de Vigo (Espanha), aposentado, tendo sido investigador principal no Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra, onde leccionou algumas disciplinas, tendo também leccionado, como professor convidado, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, nos Departamentos de Biologia das Universidades de Aveiro e da Madeira, na licenciatura de Arquitectura Paisagista da Universidade Vasco da Gama de Coimbra, no Departamento de Engenharia do Ambiente do Instituto Superior de Tecnologia de Viseu e no Departamento de Recursos Naturais e Medio Ambiente da Universidade de Vigo (Espanha).
Como bolseiro do Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC) trabalhou durante três anos em Londres nos Jardins de Kew e na Secção de História Natural do Museu Britânico. Como fitotaxonomista tem percorrido a Europa, particularmente a Península Ibérica, Ilhas Macaronésicas, África, América do Sul e Ásia, tendo também já visitado a Austrália.
Pertenceu à Comissão Editorial e Redactorial da Flora Ibérica (Portugal e Espanha), da Flora de Cabo Verde e do Conspectus Florae Angolensis, assim como de algumas revistas científicas. Tem sido colaborador (estudo de alguns grupos de plantas superiores) de algumas floras africanas, como a Flora Zambesiaca (Moçambique, Malawi, Zimbabwe, Zambia e Botswana), Flora of Tropical East Africa (Quénia, Tanzania e Uganda), Flore du Gabon e Flore du Cameroun. Assim, tem integrado grupos internacionais de investigadores em estudos e colheitas de material de campo, não só na Península Ibérica, como também em países africanos (Moçambique, Quénia, Seychelles, Tanzania, Zimbabwe, Angola, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe), asiáticos (Timor, Tailandia e Vietname) e americanos (Brasil e Paraguai).
Dos trabalhos de taxonomia em que colaborou como co-autor, o “Catalogue des Plantes Vasculaires du Nord du Maroc foi galardoado pela OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area) com a Medalha de Prata, como o melhor trabalho sobre Flora Mediterrânica publicado em 2003; e como co-editor e co-autor, a “Flora Ibérica” foi galardoada pela Unión de Editoriales Universitarias Españolas, como a melhor colecção científica editada em 2007 entre as 55 Universidades Públicas Espanholas.
Como palinologista colaborou com entidades apícolas e com os Serviços de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, tendo sido distinguidos dois dos trabalhos que elaborou em colaboração com o corpo clínico desta Faculdade com o 1º Prémio da Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória («Boehringer Ingelheim S.P.P.R., 1979») em 1979, pelo trabalho de colaboração «Pólens e Polinose na Região Centro de Portugal) e o 1º Prémio Anual SPAIC/UCB-STALLERGENES em 1994, trabalho de colaboração "HLA e Alergia — Aplicação ao estudo da Parietaria lusitanica".
Como ambientalista é muito conhecido pela defesa intransigente do Meio Ambiente, sendo membro activo de várias Associações e Comissões nacionais e estrangeiras. A sua actividade em defesa do Meio Ambiente foi distinguida, em 1993, com o Prémio “Nacional” da Quercus (Associação Nacional de Conservação da Natureza); em 2005, com o Prémio “Carreira” da Confederação Nacional das Associações de Defesa do Ambiente; em 2005, com o Prémio “Amigos do Prosepe” pelo Prosepe (Projecto de Sensibilização da População Escolar); em 2001 e 2002, com as menções honrosas dos respectivos Prémios Nacionais do Ambiente “Fernando Pereira” conferidas pela Confederação Nacional das Associações de Defesa do Ambiente.
Pela sua actividade como cientista, docente e divulgador de ciência, foi homenageado, em Dezembro de 2013, pela Universidade Coimbra, com uma sessão solene no Auditório da Reitoria, intitulada “Uma Vida dedicada à Botânica” e a inauguração da “Sala da Cultura Científica Jorge Paiva”, no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra; em Maio de 2014, pela Santa Casa da Misericórdia de Arganil com a inauguração do Largo Jorge Paiva no Parque adjacente ao edifício; em Novembro de 2014, pelo Ciência Viva (Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica) com o Grande Prémio Ciência Viva 2014. Foi também homenageado com a publicação de algumas plantas nomeadas em sua homenagem.
Publicou já mais de cinco centenas de trabalhos sobre fitotaxonomia, palinologia e ambiente. Em 2016 foi co-autor com M. F. Silva da obra "Teofrasto, História das Plantas. Tradução Portuguesa" com Introdução e Anotação e colaborou na obra "Biodiversity and Education for Sustainable Development".
Apresentou variadas comunicações e proferiu diversas conferências em reuniões científicas, congressos, simpósios ou acções pedagógicas (mais de 2.000).
Próximos Eventos
-
Agendamento de visita à exposição permanente
Faça a sua reserva!
-
Exposição: Mulheres Naturalistas do Passado
Exposição
-
As Plantas na Obra Poética de Luís Vaz de Camões
Exposição temporária - até 31 de março
-
2º Encontro de Clubes Ciência Viva na Escola
Saída de Campo - 30 de abril, das 09h00 às 16h30
Siga-nos
Horário de funcionamento
Terça-feira a domingo - 09h00 às 18h00
Fins de semana e feriados - Encerra entre as 12h30 e as 13h30
Horário de Verão (16 de junho a 15 de setembro)
Terça-feira a sexta-feira - 09h00 às 18h00
Sábados, domingos e feriados - 09h30 às 12h30 e 13h30 às 18h30
Laboratório de análise de vinhos
Análise de vinhos - terça a quinta-feira, dentro do horário de funcionamento do CCVFloresta e sexta-feira até às 14h00
Controlo de maturação e análise a mostos
Exposição Permanente
Manhã: 10h00 - 11h00 e das 11h15 - 12h15
Tarde: 14h00 - 15h00, 15h15 - 16h15 e das 16h30 - 17H30
Encerrado nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro
Política de Privacidade
Contactos
Associação Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova
Estrada Nacional 241, nº 97, Moitas
6150-345 Proença-a-Nova
Castelo Branco
PORTUGAL
info@ccvfloresta.com
Tel.: (+351) 274 670 220
«Chamada para a rede fixa nacional»
Telem.: (+351) 968 352 095
«Chamada para rede móvel nacional»
Coordenadas Geográficas
39° 43' 59.23'' N
7° 52' 33,85'' W
ver mapa